Crônicas
Raízes Podres
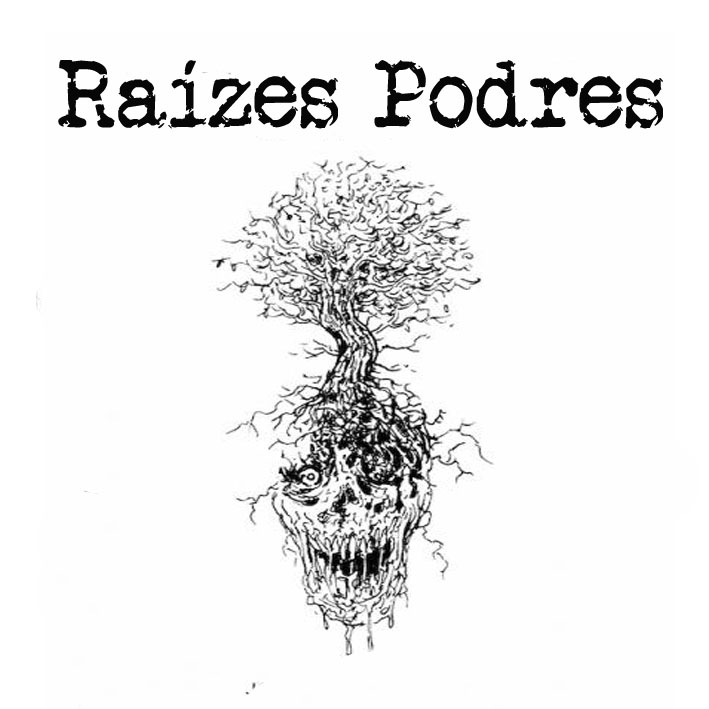
Texto escrito para o site. Junho de 2023
A humanidade está sempre em busca de suas origens. Tudo bem, talvez nem todo mundo tenha esse ímpeto, de querer saber de onde veio, quem eram seus ancestrais e até mesmo porque determinadas costumes e princípios lhe são caros e outros são desprezados. Mas em muita gente que tem isso sim. Para nós, brasileiros, isso acaba sendo até um pouco mais fácil, pelo Brasil ser um país cuja civilização é jovem, tendo apenas um pouco mais de 500 anos. Ou seja, uma boa parte dos brasileiros tem sua origem na miscigenação de indígenas e africanos escravizados com brancos europeus. Outra parte dos brasileiros não tem tanto essa miscigenação, porque são de famílias europeias, que migraram para o Brasil depois do século XIX. O que eu me pergunto é: o que as pessoas fazem com essas informações.
Mais importante do que conhecer suas origens, é entender o que elas representam e como elas refletem na sua própria existência. Estamos presenciando, de uns anos pra cá, uma avalanche de acontecimentos que não podem ser ignorados. Muito pelo contrário, devem ser vistos, analisados, discutidos, pessoas devem ser responsabilizadas e precisamos entender porque essas coisas estão acontecendo, para que a gente possa fazer alguma coisa para evitar que se repitam de novo, e de novo, e de novo, e de novo… Eu estou falando de um homem que ocupando um cargo de ministro, fez um pronunciamento emulando Goebbels e a retórica nazista, um ex-presidente da república que repudia os povos indígenas, aplaude ditadores responsáveis por mortes e torturas, células de grupos neonazistas organizadas e ativas, influenciadores digitais que acreditam que racismo é uma questão de opinião e que um partido nazista não deveria ser proibido de se articular no Brasil e um número assustador de pessoas que acreditam que ser racista, divulgar notícias falsas e defender o nazismo são atos validados pela liberdade de expressão.
É muito comum a gente ouvir algumas pessoas dizendo que o Brasil é o que é por culpa dos portugueses, afinal de se tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, holandeses ou franceses, seríamos um país muito melhor. Será? Jamaicanos, haitianos, argelinos, indianos e muitos outros povos provavelmente vão discordar. O fato é que fomos sim colonizados por portugueses. Isso já diz muito sobre o Brasil atual. Portugal, mesmo quando esteve na dianteira do mundo, conquistando terras por toda parte, sempre foi um país culturalmente atrasado. Atrelado à religião, sempre foi retrógrado, conservador e inculto. Isso desde a época do descobrimento até o período imperial, com Dom Pedro I. Além disso, por conta das grandes dimensões do país, o Brasil recebeu o maior número de negros escravizados do mundo. E o modo como a sociedade sempre lidou com essa questão também é muito reveladora. O negro acabou sendo desprezado, sem ser considerado uma pessoa, mas sim um bicho, uma coisa incômoda que habita à margem. Os governos, apoiados pela minoritária população rica, criaram muitas leis para combater o tráfico e a escravidão, para em seguida fechar os olhos e descumpri as mesmas. Quando a escravidão foi tardiamente abolida, ao invés de se criar políticas para integrar os negros libertos à sociedade, eles foram varridos para os morros e criaram-se sim políticas para indenizar os fazendeiros que perderam sua mão de obra. Ou seja, o Brasil sempre foi elitista, segregador e sempre colocou seus interesses (geralmente escusos) acima do cumprimento das leis.
Um ano depois da Lei Áurea ser assinada, vem o golpe militar que derrubou Dom Pedro II e acabou por instaurar a república no Brasil. Durante toda a República Velha, quem realmente mandava no Brasil era a aristocracia, uma verdadeira bancada ruralista. A mesma classe rica e minoritária que se coloca acima das leis e das pessoas, desde os senhores de engenho das primeiras capitanias hereditárias até os barões do café da República do Café com Leite. Uma aristocracia capaz de manipular governantes através do dinheiro. No início do século XX o Brasil começa a prosperar e se desenvolver. Cada vez mais, jovens filhos de famílias ricas vão estuar na Europa e voltam trazendo novas ideias, hábitos e produtos. Da mesma forma, a imigração de estrangeiros em busca de novas oportunidades também ajuda a desenvolver novos centros urbanos em especial no sul e sudeste do Brasil. E quanto mais esses centros urbanos se desenvolvem, mais arrastam para os arrabaldes e periferias os negros, abandonados à própria sorte, sem oportunidade de estudo ou trabalho digno. 40 anos depois, um novo golpe militar muda o cenário político do Brasil. A chamada Revolução de 1930 nada mais foi do que um golpe de estado que alçou Getúlio Vargas ao poder, quebrando o protagonismo de paulistas e mineiros. A era Vargas chegava para acrescentar um novo ingrediente perigosíssimo a essa elite brasileira conservadora: o fascismo.
O início da década de 1930 foi um dos períodos mais emblemáticos da história. O fim da Primeira Guerra Mundial deixou a Europa devastada, e alguns países seriamente prejudicados. Enquanto isso, a Rússia crescia exponencialmente e espalhava ideias comunistas, depois de ter passado pela grande revolução de 1917. Países devastados pela guerra eram solo fértil para plantar o comunismo, mas também para fazer florescer um ódio cego contra qualquer um, afinal, alguém tinha que ser culpado por tanta desgraça. Foi nesse cenário que Mussolini ascendeu na Itália e Hitler na Alemanha. Hitler e Mussolini eram objetos de admiração de Getúlio Vargas, que passou a ter como um de seus principais objetivos caçar e aniquilar comunistas. Isso tomou proporções diabólicas após a instauração do Estado Novo, em 1937. A mais sanguinária e vil ditadura que o Brasil presenciou. Nessa época o abismo entre classes sociais seguia inabalável. Dado todo o histórico social do Brasil até aqui, conservador, retrógrado e elitista, não é surpresa para ninguém que o partido nazista tivesse uma célula forte por aqui. Mais que uma célula forte, o partido nazista no Brasil era o maior do mundo em número de associados, perdendo apenas para a sede do partido, na Alemanha. O partido tinha células em vários países do mundo, desde os Estados Unidos até o leste europeu e na Argentina. Mas nenhum tinha tantos filiados quanto o Brasil.
O partido nazista foi fundado no Brasil em 1928, na cidade de Timbó, próxima a Blumenau, no estado de Santa Catarina. A imigração de alemães foi muito importante para o sul do Brasil, principalmente no século XIX. Os primeiros alemães chegaram no Rio Grande do Sul e Santa Catarina por volta de 1824. Mas foi no segundo ciclo migratório, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, que alemães vieram para o Brasil, fugindo da crise durante a República de Weimar, e se estabeleceram em São Paulo e Santa Catarina, trazendo na bagagem os ideais nazistas. O partido foi fundado no Brasil em 1928, mas se consolidou mesmo após a chegada de Vargas no poder. O partido nazista apoiou o ataque a São Paulo em 1932 e teve acesso aos primeiros escalões do governo de 1933 em diante, quando Hitler se tornou chanceler da Alemanha. Em 1934 o partido nazista no Brasil tinha quase 3 mil filiados e tinha se espalhado por 76 cidades do Brasil, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Pará e Paraná. Fora da Alemanha era a maior célula nazista do mundo, na frente até mesmo da Áustria, terra natal de Hitler. Por aqui, os nazistas, naturalmente antissemitas, não tinham tantos judeus para rivalizar, então voltaram seu ódio aos negros, indígenas e miscigenados. O partido não aceitava membros que não fossem comprovadamente alemães natos ou descendentes diretos de alemães. Afinal, a eugenia sempre foi um pilar do nazismo. O partido nazista acabou extinto no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, quando Vargas foi convencido, contra sua vontade e contra a vontade de generais como Dutra e Góis Monteiro, a se aliar aos Aliados. É sempre bom salientar. Getúlio Vargas simpatizava com Mussolini e Hitler e queria se aliar ao Eixo, já que era ele próprio um ditador fascista no Brasil naquela época. Além disso, o Brasil contava naquela época com o Partido Integralista, os famosos galinhas verdes. Os integralistas eram nacionalistas de extrema direita (a.k.a. fascistas), e o partido nazista, muito excludente e rigoroso, não permitia que qualquer cidadão brasileiro, mesmo tendo ascendência germânica, se juntasse a ele. Assim, muitos descendentes de alemães começaram a migrar para o partido integralista. Partido este que foi mais uma das muitas faces dessa direita torpe e conservadora brasileira.
Apesar de todo o autoritarismo e truculência, a Era Vargas trouxe algum progresso à sociedade brasileira, democratizando um pouco o acesso ás urnas e estabelecendo uma legislação trabalhista, que até então inexistia no país. Nas décadas de 1950 e 1960 o Brasil se desenvolveu bastante, mas ainda muito pouco era feito para diminuir o abismo social e efetivamente integrar a população negra à sociedade. Criou-se assim essa imagem que foi perpetuada ao longo das décadas de negro é pedreiro, porteiro ou bandido. Muita gente diz que o Brasil não é um país racista, justificando que aqui nunca teve nada como o ocorrido nos Estados Unidos, de haver, de fato, uma segregação, banheiro exclusivo para negros, transporte coletivo com assentos marcados e etc… Essas coisas não aconteceram por aqui porque os negros sequer tinham a oportunidade de frequentar restaurantes ou lanchonetes, já a elite branca brasileira, jamais se sujeitou a andar de ônibus ou de bonde. Portanto, essa segregação sempre rolou no Brasil Os restaurantes e lanchonetes que os negros frequentavam, e boa parte ainda frequenta, são os da periferia, onde uma maioria negra já habita, bem como é uma maioria de negros que se faz valer do transporte público para ir trabalhar e ir de um lugar ao outro de maneira geral. E, se hoje em dia, a maior parte da população das favelas e periferias é formada por pessoas pretas, se a maior parte da população carcerária é formada por pessoas pretas, se a esmagadora maioria da população universitária do Brasil é formada por pessoas brancas, se a esmagadora maioria das pessoas sente um medo involuntário de ser roubada ao ver uma pessoa preta numa rua vazia, se uma família de pessoas pretas num carro, indo para uma festa, em plena luz do dia, é “confundida”, e “confundida” entre muitas aspas, por bandidos e tem seu carro alvejado de balas por militares. Olha, se tudo isso acontece, e você sabe que acontece, o Brasil é sim racista pra caralho!
Voltamos ao início do texto. Ministro emulando Goebbels, youtuber falando que racismo é liberdade de expressão, células neonazistas em atividade no sul do Brasil. E isso continua. Mês passado, em maio de 2023, um deputado do Mato Grosso do Sul discursou citando, e exibindo em suas mãos um exemplar, o livro Mein Kampf, de Adolf Hitler. Por mais que negros, bem como homossexuais, mulheres, indígenas e etc, tenham mais voz hoje em dia, que existam políticas de cotas para negros em empregos públicos e universidades, ainda há muito o que evoluir. E não vai ser ignorando o racismo e manifestações neonazistas e neofascistas que vamos mudar alguma coisa. Eu sei que muitas vezes nos sentimos impotentes frente a essas questões. Até nos indignamos quando vemos as notícias e tal. Mas, o que mais podemos fazer? No mínimo, podemos falar a respeito. A minha maneira é escrevendo este texto, buscando as origens de um comportamento profunda e dolorosamente enraizado na nossa sociedade. Levantando a reflexão de que em pleno 2023 não cabem mais determinadas piadas, por mais que se considerem “ingênuas” ou “só uma piadinha, é humor e não racismo”. Não dá mais. Assim como não dá pra aceitar um deputado empunhando o Mein Kampf no púlpito, assim como não dá pra aceitar que um pastor evangélico diga que homossexuais merecem sofrer e ainda ser aplaudido por toda uma congregação, assim como não dá pra aceitar que um homem negro seja morto por policiais numa câmara de gás improvisada, assim como não dá pra aceitar pessoas defendendo golpe militar. Não dá pra aceitar. Mas é necessário falar sobre tudo isso de maneira crítica e racional, para que a gente consiga, pelo menos, começar a identificar e eliminar cada uma dessas nossas raízes podres.
Você vai continuar fazendo música?

Texto escrito para o site. Março de 2023.
Era o primeiro show realmente grande que eu presenciava. E não era qualquer show gringo em estádio de futebol. Era o primeiro show da banda no Brasil, aquela banda do meu coração. Portanto, tudo era muito emocionante para mim. Eu estava eufórico. Mas tudo mudou quando o vocalista disse a frase “We’ll try this one…”. Aquele primeiro acorde, aquela Telecaster afinada em ré com um timbre maravilhoso, encharcado em reverb e chorus, ressoando… “Do you see the way that tree bends…”. Aquilo me atingiu em cheio. Enquanto os fãs reconheciam a música, vibravam e aplaudiam, eu fiquei ali parado sentindo uma coisa muito forte, que eu não consigo descrever. Eu estava rodeado de amigos naquele show, mas naquele momento particular, parecia que eu estava sozinho. Eu e a banda. E foi a primeira vez que eu chorei vendo alguém tocar uma música na minha frente.
O show em questão foi o Pearl Jam em 2005, a primeira vinda da banda ao Brasil. Assisti o segundo dos dois shows no Pacaembu, em São Paulo. A música que tanto me emocionou foi Present Tense, uma música considerada lado B da banda, mas uma das minhas favoritas, talvez a minha favorita entre toda a obra da banda. É realmente uma música emocionante, carregada de sentimento e com uma melodia fantástica. Me lembrei disso agora porque eu ando, nas últimas semanas, muito envolvido com música de maneira geral. Tenho feito apresentações sozinho, só eu e minha guitarra, andei assistindo umas séries interessantes e também escrevi muito sobre música, sobre determinados músicos, pra ser mais exato, por conta de trabalho. E a cada vez que me debruço sobre qualquer uma dessas atividades, me desperta uma curiosidade muito grande, porque eu acabo sendo tomado por um sentimento de pertencimento, de comunhão. E fico embasbacado por perceber como a música é transcendental para algumas pessoas, e para outras não.
Particularmente, o ano de 2023 é muito especial para o mundo da música, pois marca datas redondas muito importantes. Por exemplo, em março, tivemos os 25 anos da morte do Tim Maia e os 50 anos do lançamento do Dark Side of the Moon. Datas a serem lembradas. Aí, fui na Globoplay assistir uma minissérie sobre o Tim Maia, que consiste numa compilação de imagens raras e entrevistas que ele deu, editadas de forma a contar sua trajetória desde a infância até a vida adulta, o sucesso, os abusos e a morte. E as cenas do Tim Maia no palco são inacreditáveis. Melhores ainda são as cenas dele ensaiando com a banda, em vídeos caseiros. Com uma sensibilidade fabulosa, e sempre fazendo tudo aquilo parecer muito simples, mesmo sendo tão exigente. Aliás, ele era tão exigente com seus músicos justamente porque para ele tudo aquilo parecia tão natural, tão simples, que ele percebia facilmente se alguma coisa estava fora do lugar.
Seguindo nessa onda, assisti uma série recente chamada Daisy Jones and The Six. Uma série que conta a história de uma banda fictícia que se torna número 1 nas paradas dos Estados Unidos, na década de 70. Em formato de documentário e flashbacks, somos apresentados à banda The Six, e à cantora e compositora Daisy Jones, e como eles se juntaram e fizeram tanto sucesso. As músicas compostas para a série são de muito bom gosto, e o roteiro é bem legal, equilibrado entre drama e comédia, com muitas referências à música pop dos anos 60 e 70. Enfim, uma delícia de assistir. E para quem tem essa ligação mais forte com a música, quem toca e compõe, tem um sabor especial, porque mostra os artistas escrevendo suas canções, as diferentes linguagens, maneiras de pensar a música, o que se quer dizer, como combinar palavras e acordes. E principalmente entre a dupla de protagonistas, os personagens Billy Dunne e Daisy Jones, rola todo uma entrega visceral, tanto na hora de compor, quanto na hora de interpretar no palco suas canções. E, apesar da série em momento nenhum levantar essa questão, eu fiquei pensando muito nessa diferença que rola entre o que o artista sente tocando em cima de um palco e o que sente cada pessoa que está ali na frente do palco curtindo o show. E fica claro para mim, que não se trata nem um pouco de virtuosismo, do quão bem o música toca seu instrumento, de como o som tem que estar o mais parecido com a gravação do disco… não é nada disso! É sobre a entrega. Não para o público, mas para si mesmo.
Para completar, assisti, numa tacada só, os 6 episódios da série McCartney 3,2,1. Nela, Macca e o produtor Rick Rubin estão sozinhos num estúdio ouvindo e conversando sobre música. Essencialmente músicas dos Beatles, é claro. E de uma maneira muito franca e despojada, Paul fala sobre como criou determinadas canções, como ele tocava baixo, como os Beatles pensavam arranjos…. e era tudo do jeito deles, porque eles queriam eles achavam legal. Não tinha essa de a gravadora vai achar que vende mais assim ou assado, ou essa música agrada mais o público. Ao falar de música com tanto amor e simplicidade, sempre deixando claro que até hoje nunca aprendeu a ler uma linha de partitura, mas dedicou sua vida devotadamente à música, Paul McCartney não se coloca acima de ninguém. Pelo contrário, comunga conosco, reles mortais que tocam um instrumento porque é divertido, que compõe uma canção porque sente que aquilo precisa ser feito, e se o resultado final te satisfaz, vai acabar satisfazendo alguém (ou o mundo todo, no caso dele). Mas é um aprendizado e um alívio, como músico que sou, ouvir toda aquela conversa deles e se sentir fazendo parte daquilo.
Mês passado eu fui convidado para tocar numa cervejaria, onde iria rolar um encontro de um clube de motoqueiros. Aceitei o convite, mas confesso que fui meio ressabiado. Sei que esse pessoal de moto clubes é mais ligado ao hard rock e heavy metal… e eu, no meu formato solo, só voz e guitarra, apresento um repertório bem variado, mas mais voltado para o rock nacional, com umas pitadas de country e blues. Sem falar que eu gosto de tocar algumas músicas que são pouco conhecidas, de umas banda alternativas, independentes e tal. Pensei comigo: “Desagradar os caras eu não vou. Mas também não vão me adorar. E se assim for, está de bom tamanho.”. Toquei meu set, mas não entreguei 100%. Estava cansado, preocupado em agradar, querendo parecer legal para o pessoal da cervejaria, para, quem sabe, me chamarem para tocar lá de novo… foi uma apresentação mediana, no meu ponto de vista. Mas teve gente que gostou muito.
Um cara veio falar comigo depois que acabei de tocar. Um cara legal, que eu já conhecia de longa data e não via há muito tempo. Ele veio me falar que gostou do som, que a esposa dele também gostou muito e que ele faz uma festa na casa dele uma vez por mês para reunir os amigos dele e sempre convida um músico pra tocar. E ele queria que eu tocasse na casa dele no mês seguinte. Pois bem. Acertamos a data, ele foi muito bacana e me pagou adiantado e tudo o mais. Eu tinha três semanas para me preparar para tocar lá. Nesse meio tempo, comprei um pedal de efeito que eu queria muito usar. Passei dias treinando em casa para usar este pedal em algumas músicas. Apesar de muito treino, quando chegou o dia de tocar na casa do cara, ainda estava meio inseguro de usar o tal pedal. Além disso tinha feito vários arranjos diferentes para algumas músicas, com alternância de efeitos, mudar andamentos, fazer um dedilhado aqui e ali… Enfim, toquei lá semana passada e foi incrível. Porque quando comecei a tocar as primeiras músicas, sem pensar, eu comecei a tocar sem usar em vários efeitos, passei por cima de alguns dedilhados… e toquei com energia, curtindo as canções, afinal, são todas músicas que eu adoro. Não usei a porra do pedal novo em nenhum momento, mas acabei tocando bem, eu estava confortável tocando, realmente empolguei as pessoas que estavam lá curtindo e eu me diverti muito.
O mais curioso é que saí de lá com mais uma data agendada para tocar. Desta vez na sede do moto clube dos caras que estavam lá na festa. Realmente, eu acabei empolgando os motoqueiros, sem tocar um ACDC ou um Black Sabbath sequer. É amanhã que vou tocar lá. Hoje cheguei do trabalho e fui dar um trato na minha guitarra, trocar as cordas e tal. E Depois sentei para tocar algumas canções. Quero variar o set que fiz semana passada. Quando eu vi que comecei a pensar muito em como tocar tal música, ou qual efeito usar… pensei: Não! É só tocar pra valer. Então, ao invés de ficar mexendo em efeitos, foquei no repertório, escolhi algumas músicas que eu realmente gosto e sei tocar, dei uma repassada nelas, só para relembrar os acordes e é isso aí. Tenho certeza que vai ser tão divertido quanto semana passada.
Por fim, resolvi vir aqui e escrever este texto antes de dormir, porque queria expressar como eu ando me sentindo apaixonado pela música de maneira geral. Como é bom se emocionar com tudo isso. Ao ponto de me lembrar daquela noite em São Paulo, quando o Pearl Jam me fez chorar de emoção. E também fazer eu me sentir conectado ao Tim Maia por me divertir tanto tocando. Fazer com que eu me identifique de tantas maneiras como os personagens de uma série de TV por querer entregar no palco a mesma energia que eu sinto no meu quarto, fazendo música sozinho. Compreender cada vez mais que a simplicidade, a vontade de fazer música, essa ligação tão forte com ela, faz com que eu me sinta cúmplice do Paul McCartney! Olha que loucura! E, acima de tudo, faz com que eu carregue amplificadores pra cima e pra baixo, ganhe quase nenhum dinheiro, fique exausto… mas quando eu acabo de tocar a última música, eu finalmente paro de olhar para mim mesmo e olho para as pessoas, que honestamente interagiram e curtiram o que estava fazendo. E, por alguns poucos segundos, enquanto o último acorde ainda está soando e as pessoas estão aplaudindo, eu me sinto completo e verdadeiramente realizado.
Gosto de infância

Texto publicado no Diário do Sudoeste em junho de 2020
Usar determinadas palavras para dar significado a coisas tão difíceis de descrever, como sentimentos, sentidos e memórias, é uma das coisas que me faz amar tanto escrever. Acho lindo dizer que tal comida tem gosto de infância, por exemplo. Porque é uma maneira muito objetiva de definir uma coisa muito particular. O sabor da minha infância é bem diferente do sabor da sua infância. Ainda assim, nós dois entendemos claramente, e da mesma maneira, o que esta expressão quer dizer. E já que estamos falando de sabor de infância, vou contar pra você algo que me deu muita alegria essa semana.
Uns dias atrás estive com a minha mãe e ela me ensinou a fazer virado de banana! Trata-se de um doce muito simples feito com apenas cinco ingredientes: banana, açúcar, farinha de milho, sal e óleo. O virado de banana é a minha definição de gosto de infância. Meu avô materno morava na pequena São Bento do Sapucaí, cidade pequenininha no alto da serra da Mantiqueira. Na época que ia passar as férias escolares lá, era uma cidade pacata. Hoje em dia é uma cidade badalada de turismo ecológico na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Ali viviam meu avô e suas duas irmãs. Isso porque minha avó morreu quando minha mãe era criança. Desde então, meu avô, que na época morava em São Paulo, após encaminhar os filhos, mudou-se para São Bento com minhas tias avós. Passei muitas férias na casa do meu avô. De lá trago as memórias mais felizes da minha vida até hoje. Já vivi muita coisa, já me diverti muito… mas acho que nunca vivi uma felicidade tão pura quanto a que experimentei em São Bento. Corria pelas ruas, às vezes sozinho, às vezes com meus primos, com o meu avô ia pescar lambaris, assistia aos jogos do Corinthians, desenhava, ouvia histórias… era muito mágico, de verdade.
No quesito comida, tem três pratos que sempre tinha à mesa por lá: lambari frito que pescávamos, pepino ralado com pimenta, limão e salsinha para acompanhar a salada do almoço e o virado de banana. O lambari frito eu comi raríssimas vezes depois que meu avô morreu. Já o pepino e o virado de banana, minha mãe sempre soube fazer exatamente como minha tia avó fazia lá em São Bento. Ano passado me mudei da casa dos meus pais, para construir minha família com a minha namorada. Desde então, faço o pepino ralado com frequência, pois é muito simples. Já o virado de banana, eu nunca me arrisquei a tentar fazer. Até que minha mãe disse que faria e eu fui acompanhar, para aprender a fazer. No fim das contas, ela só foi me dando as instruções e eu mesmo fiz. E não é que ficou com o mesmo sabor do que minha tia avó fazia em São Bento? Finalmente aprendi e vou poder fazer em casa sempre que estiver em casa, sem precisar depender da minha mãe!
Se você ficou querendo saber como é esse danado desse virado de banana, vou explicar aqui. Se você tentar fazer e gostar, pode entrar em contato comigo pra me contar. Primeiro detalhe é usar banana prata ou nanica (preferência para a prata). Entre 6 e 8 bananas é uma quantidade boa. Corte as bananas em rodelas e ponha numa frigideira com um pouco de óleo e vá mexendo aos poucos, deixando a banana derreter. Depois que já deu uma boa derretida, acrescente três colheres de sopa bem cheias de açúcar e segue mexendo. Um dos segredos é uma pitada de sal neste momento, que vai equilibrar e não deixar muito doce. Mas é uma pitada mesmo, nada mais. Depois que a banana já derreteu bem e começou a pegar cor junto do açúcar, vá acrescentando a farinha de milho aos poucos. A farinha de milho não tem quantidade exata, tem que ir acrescentando e mexendo sem parar, até que se chegue numa consistência de massa de pão. Mas não deixe secar muito, essa é a dificuldade de explicar… só vendo mesmo. Mas quando essa massa começa a ficar mais homogênea e consistente, e a cor começa a chegar num marrom mais escurinho, é hora de tirar do fogo. Já passa essa massa para uma vasilha de vidro, espalha certinho, de maneira uniforme. Ali ela vai secar. Esfriou um pouco, já pode cortar e comer. Esse virado morninho com um café passado na hora não tem coisa igual nesse mundo. Nada se compara ao doce e maravilhoso gosto de infância!
Inteligência Artificial & Talento Natural

Texto escrito para o site. Fevereiro de 2023.
Eu considero a escrita a maneira mais eficiente de comunicação. Quando bem elaborado, um texto pode transmitir uma mensagem com mais clareza e sensibilidade ao ser lido do que ao ser ouvido. Afinal, ao escrever podemos ponderar os argumentos, escolher as melhores palavras e até mesmo conduzir a fluidez da leitura através da pontuação. Quando precisamos comunicar alguma coisa falando, ainda mais se tiver que ser no improviso, sem tempo pra pensar, tudo atrapalha. Enquanto fala, você observa as reações das pessoas e isso pode te desconcentrar, ao procurar as melhores palavras, sua mensagem vai parecer vacilante, pois haverão intervalos, tipo… hmmm, como posso dizer… ãhnn… Enfim. É fato que algumas pessoas escrevem muito melhor que outras. Mas todo mundo pode escrever razoavelmente bem se quiser.
Neste contexto, a escolha e o uso correto de cada palavra é muito importante. Tão importante que, se usada e maneira equivocada, pode perder seu significado original e ganhar um novo. Por exemplo, a palavra nostalgia, até o século XIX era uma coisa ruim, remetia à tristeza, melancolia. Hoje em dia, quando alguém se sente nostálgico, significa que está sentindo aquela saudade gostosa de uma época boa da vida. Eu costumo ter essa preocupação no uso de algumas palavras, para manter seu significado. O melhor exemplo para mim é a palavra gênio. Um adjetivo superlativo, é considerado gênio aquele que realiza coisas extraordinárias, que está muito acima da média. Me lembro que, quando morreu o Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr, muita gente na imprensa dizia ”Perdemos um gênio da música.”. Ora, vamos com calma! Se vamos usar o adjetivo gênio para o Chorão, que adjetivo vamos usar pro Tom Jobim? Porque não podemos coloca-los no mesmo balaio, certo?
Tá. Então vou te dizer um cara que pode sim ser considerado gênio, dada sua obra tão única, desafiadora e influente. O Doutor Gonzo, Hunter S. Thompson. Falo dele porque estou acabando de ler um de seus livros neste momento e estou encantado com a sua narrativa. Ainda que o jornalismo gonzo tenha se popularizado e se tornado praticamente um estilo literário, o texto de Thompson é incomparável. Ninguém escreve como ele. Aí, por esses dias atrás, ouvi falar bastante e li em alguns lugares sobre o ChatGPT, a tal inteligência artificial capaz de elaborar textos originais, dissertando sobre qualquer assunto desejado. Numa das matérias que li, dizia que fora pedido a IA para escrever a letra de uma música sertaneja falando sobre o Pantanal, no estilo do compositor Sorocaba. E assim foi feito, e parece que o compositor recebeu a letra e até achou boa, chegou a colocar melodia em cima e tal.
Me lembrei dos primórdios da internet, quando tinha um site que era um gerador de letras dos Engenheiros do Hawaii. Claro, não tinha nada de inteligência artificial ali. Apenas um banco de dados com várias frases e clichês que o Humberto Gessinger sempre usou, e quando você pedia para gerar a letra, saía um compilado dessas frases, de maneira randômica, mas que muitas vezes fazia sentido e era legal. E no fim das contas, era um site pra tirar sarro, é óbvio. Aí entrei no tal ChatGPT e pedi uma música ao estilo do Humberto Gessinger, pra ver o que daria. O resultado foi frustrante. Uma letra tão fraca e superficial que até mesmo o Dinho Ouro Preto seria capaz de fazer melhor.
Mas pensei. Bom, a IA é gringa, não tem tanta informação assim da cultura brasileira. Aí pedi para ela gerar um texto de 6 parágrafos sobre política internacional de 2022, no estilo cáustico e caótico do doutor Hunter Thompson. Pedi inclusive em inglês, pra garantir que não iriam se perder quaisquer nuances ou tiradas na tradução. E adivinha. O resultado foi igualmente frustrante. Recebi um texto que até resumiu bem a política internacional do ano passado. Mas sem a verve vibrante e provocadora do doutor Gonzo que eu esperava.
Plataformas de inteligência artificial como o ChatGPT são uma novidade, uma ferramenta que ainda não descobrimos direito para que serve e como usar. É claro que vai acabar nos causando alguns problemas. Principalmente para o ensino. Imagine que através do ChatGPT, alimentando-o corretamente com as informações necessárias, o tipo e tamanho do texto, sua formatação e etc, a IA pode gerar toda uma monografia de conclusão de curso para um graduando, e este texto não será plágio, pois é um texto original. O mesmo vale para trabalhos e pesquisas de alunos no ensino médio. Em contra partida, para jornalistas, por exemplo, pode ser uma ótima ferramenta. Uma pesquisa para uma pauta que poderia demorar determinado tempo no Google, que vai entregar um link para você acessar e encontrar a informação necessária, o ChatGPT vai te entregar todas as informações que ele possui sobre aquele determinado tema de uma vez só e de maneira organizada. Aí, o trabalho que o jornalista vai ter vai ser de checar as informações e inserir no seu texto.
O que o ChatGPT não faz é escolher aquela palavrinha ideal, é saber quando uma frase deve ser longa para demonstrar urgência, ou entrecortada entre duas ou três, gerando pausas e causando outro sentimento ao leitor. A inteligência artificial não tem sensibilidade ou criatividade para transformar uma história banal numa história surpreendente, com reviravoltas e finais inesperados. Mais importante de tudo, inteligência artificial nenhuma tem bom senso para saber que a letra de música que ela gerou é pior que qualquer uma do Dinho Ouro Preto, ou para retratar com bom humor um acontecimento qualquer. Inteligência artificial também não tem senso crítico. Aliás, senso não tem nenhum, porque inteligência é uma coisa, sensibilidade é outra.
Eu não sou um grande escritor. Não sou um revolucionário da literatura ou um vanguardista da comunicação. Mas sei que escrevo bem e meus textos tem um algo mais, que agrada pelo menos algumas pessoas. Textos como este que você está lendo, inteligência artificial nenhuma vai ser capaz de criar. O ChatGPT está aí, e veio para ficar, mesmo assim, ainda vamos precisar de gente como Hunter Thompson e Jack Kerouac, Guimarães Rosa e Rubem Fonseca, para escrever textos que ninguém consegue imitar. Continuamos precisando de gente como Bob Dylan e Kurt Cobain, Tom Jobim e Caetano Veloso… vá lá, até de gente como o Humberto Gessinger e o Dinho Ouro Preto a gente precisa. Porque não são gênios, mas mesmo assim tem alguma sensibilidade e, assim como todo ser humano, eles são únicos.
DE UM JEITO DIFERENTE PARA 2017

Texto publicado em dezembro de 2016 no Diários do Sudoeste.
Em 1996 eu tinha 14 anos de idade. Um tempo de descobertas, onde determinadas obras de arte mudaram a minha vida, ajudaram a moldar minha personalidade e meus princípios. Eu ainda não tinha lido o On The Road do Jack Kerouac, mas já tinha ouvido o Nevermind do Nirvana, já considerava o Vinícius de Moraes o maior poeta brasileiro, já tinha ido a alguns shows de rock e começava a fazer aulas de bateria. Já era um consumidor voraz de filmes, mas poucos haviam me marcado, como Assassinos por Natureza e The Doors, ambos do diretor Oliver Stone. Até que numa madrugada de insônia, um filme totalmente diferente dessa pegada de violência, rock e contra cultura me arrebatou.
Eu estava de madrugada zapeando os canais até que parei num filme que estava começando, os créditos apareciam enquanto uma música clássica tocava e trilhos de trem deixados para trás eram mostrados em cena. O título original: Before Sunrise, em português, Antes do Amanhecer. Escrito e dirigido por Richard Linklater, o longa fora lançado um ano antes, mas não teve grande repercussão e acabou virando um desses filmes cult. O filme me prendeu desde os primeiros diálogos. Me identifiquei muito com o Jesse, personagem do Ethan Hawke, que, mesmo cheio de insegurança, tentava impressionar a charmosa e inteligente Celine, personagem de Julie Delpy.
Este filme me encantou de tal maneira que passei a aluga-lo na locadora de filmes (sim, outros tempos, né… rebobinar a fita pra não levar multa e tal… lembra disso?) com muita frequência. Muito tempo depois, quando ele saiu em DVD, não perdi tempo e garanti uma cópia para mim. Vieram depois as belíssimas sequências, Before Sunset (Antes do Pôr do Sol), lançado em 2004, e Before Midnight (Antes da Meia Noite), lançado em 2013, e a minha paixão pela história do Jesse e da Celine só aumentou!
Pulamos para agosto de 2016. 20 anos depois de eu ter assistido o Before Sunrise pela primeira vez. Recebo a notícia que farei uma viagem à Europa com os meus pais e minha irmã. O roteiro, quatro cidades do leste europeu: Praga (República Tcheca), Budapeste (Hungria), Cracóvia (Polônia) e Viena (Áustria). Para quem não assistiu o filme ou não se deu conta por algum motivo, o Before Sunrise é todo filmado em Viena! Eu sempre sonhei em andar por Viena, passar por cada lugar onde meus personagens favoritos caminharam. E agora, eu poderia realizar isso. Fiz uma pesquisa no Google e localizei a maior parte das locações, algumas delas, lojas, bares e cafés que ainda estavam abertos desde a época das filmagens do filme, entre 1994 e 1995.
Dia 10 de outubro, embarcamos no avião em São Paulo com destino a Praga. No dia 15 chegamos a Viena. Caminhar por Viena, desde a minha chegada lá, foi uma experiência bem difícil de descrever. A minha impressão é que eu já conhecia aquela cidade de alguma maneira. Há de se dizer que a capital austríaca é uma cidade linda, com uma riqueza cultural sem precedentes, mistura moderno e clássico, cheia de parques e muitos encantos. Com tantos atrativos, pelo fato de estar na companhia de meus pais e minha irmã, tinha que dividir meus interesses com os deles. Assim, fui selecionando as locações que eu fazia muita questão de conhecer, pois já percebia que não teria tempo para ir a todos os lugares.
Minha primeira parada foi a loja de discos usados onde Jesse e Celine escutam a bela canção Come Here, da cantora folk Kath Bloom. A loja está lá desde as filmagens do filme, intacta, com as mesmas prateleiras e várias surpresas sobre as filmagens ali dentro. Os atendentes e a dona da loja são simpaticíssimos e adoram receber fãs do mundo todo que vão até lá! Um rapaz muito atencioso me mostrou cada lugar da loja referente ao filme, deixou que eu tirasse uma foto com a capa do disco da Kath Bloom que os protagonistas ouviram, capa esta que fica numa moldura, pendurada na parede. Ali comprei alguns discos para a minha coleção, uma camiseta da loja e saí flutuando de tão feliz. Caso você vá a Viena algum dia, recomendo muito conhecer esta loja. Ela se chama (respire fundo) Teuchtler Schallplattenhandlung e fica na rua Windmühlgasse, número 10.
Em seguida, fui até o Café Sperl, onde Jesse e Celine, já tarde da noite, vão e fazem seus telefonemas imaginários, uma das cenas mais bacanas do filme. O lugar é muito bonito e parece ser um dos mais tradicionais de Viena. Ao contrário da loja de discos, o atendimento lá não é dos melhores. Além do mais eu fui na hora do almoço, um horário ruim por ser muito lotado. Eu sabia exatamente qual a mesa em que o casal havia se sentado para filmar a cena. Mas não pude sentar lá ou fotografá-la, pois tinham algumas pessoas almoçando. Mas é um lugar ótimo e muito aconchegante, que serve um delicioso apfelstrudel.
Andando mais um pouco, passei pela Maria Theresien Platz, uma praça com um jardim lindíssimo que fica entre os prédios do Museu de História Natural e o Museu de Belas Artes. É um lugar agradabilíssimo para passear devagar curtindo cada detalhe. Esta praça aparece no início da jornada do casal pela cidade, logo depois que eles saem da loja de discos. Outra praça emblemática é Albertinaplatz, onde os dois conversam sobre tudo o que estavam vivendo na sacada da praça e depois, Jesse recita o poema sobre o tempo de W. H. Auden nos degraus de uma estátua na frente do Albertina Palais Museum.
Assim passei um dia todo andando por Viena. A cada rua que passava, procurava alguma janela ou jardim familiar. Foi um dia mágico. Cada vez mais apaixonado por cinema, a sensação de estar no lugar onde foi filmada uma cena que você tem viva na sua cabeça é indescritível! Olhar aquele lugar e entender porque o diretor escolheu determinado ângulo, estar com pessoas que entendem sua paixão e compartilham dela, como aconteceu na loja de discos, é maravilhoso! Para completar a minha aventura na capital austríaca, no dia seguinte, meu último dia na cidade, eu já estava satisfeito e estava mais acompanhando meus pais nos lugares que eles queriam conhecer. Já com o dia escurecendo, passei por uma praça pequena e senti o que eu procurava a cada esquina. A sensação de conhecer aquele lugar sem ter que ficar procurando o endereço no mapa. Bati o olho e reconheci a fonte de água e, na frente dela, algumas mesinhas. Era a Franziskanerplatz, onde se encontra o Kleines Café, onde foi filmada a cena em que uma cigana lê a mão da Celine! Ali, me senti completo. Me senti conectado com meus personagens favoritos! Foi uma das mais puras felicidades que já pude experimentar.
É claro que a viagem toda foi incrível. Conheci lugares magníficos, culturas super diferentes, provei ótimas comidas e me encantei com tanta diversidade. Mas nada se compara aos sentimento de ter andado por Viena por aqueles dois dias, observando tudo, amando cada momento.
Esta minha coluna destina-se a falar sobre cinema, mais especificamente, proponho-me toda semana a recomendar um filme que conste no catálogo da Netflix e que possa te divertir, te fazer pensar, te emocionar, te surpreender e, principalmente, te inspirar.
E, apesar de não constar no catálogo da Netflix, eu recomendo muito que você procure assistir este filme belíssimo, bem como suas duas sequências. São filmes realmente inspiradores, simples, diretos, humanos, cativantes e belíssimas obras de arte.
Para concluir: Hoje eu vim aqui contar uma história que eu vivi, que tem a ver com cinema sim, mas trata-se de um filme exclusivamente, filme este que que não consta no catálogo da Netflix. Mas, honestamente, não tem problema. Hoje estou aqui para falar sobre um momento que fez 2016 valer a pena para mim. Eu sei que foi um ano complicado e cheio de coisas negativas para todo mundo. Mas hoje, na virada do ano, pense em uma coisa muito boa que te aconteceu em 2016. Se apegue a ela. Saboreie este momento de novo e guarde-o consigo.
Eu torço para que 2017 seja um ano muito melhor para todos nós. Assim como eu fiz com este texto, no ano que vem, permita-se sair do óbvio e do comum. Saia do tema, fale sobre emoções e guarde apenas as coisas boas.
Estou torcendo por você e por um Ano Novo de muita surpresa boa, alegria e sucesso para todos nós.
Feliz 2017.
GETÚLIO

Texto publicado em maio de 2014 nas minhas redes sociais e posteriormente na revista Vanilla.
Fui ao cinema nesta tarde de domingo assistir ao filme Getúlio, protagonizado com muito esmero por Tony Ramos. Vou falar primeiro sobre o filme em si e depois explico porque me senti compelido a vir escrever sobre ele.
Getúlio é um longa metragem muito bem dirigido por João Jardim. Retrata os últimos dias de vida do então presidente Getúlio Vargas em agosto de 1954. Após um atentado ao jornalista e candidato a deputado Carlos Lacerda, uma série de acusações recaem sobre o governo, principalmente à defesa pessoal de Vargas. São descobertos também vários documentos comprovando corrupção e vários outros atos ilícitos dentro do palácio do Catete. Parte dos militares começam a exigir a renúncia de Vargas e alguns ministros começam a falar de conspiração.
Tony Ramos encarna um Getúlio solitário e melancólico. Apesar de cansado e sentindo-se traído, insiste em lutar pela honra de seu nome, negando-se a renunciar, sabendo que não tem culpa de tudo que acontece à sua volta. Também fica claro que Tony Ramos não se prendeu a maneirismos, não forçou um sotaque gauchesco. Sendo assim, sua atuação teve mais fluidez, tornando o personagem mais natural.
O roteiro é bem escrito, apoiado em depoimentos e fatos, mas cuidadosamente dramático, denso, porém sem muita profundidade.
A fotografia chama a atenção. Muito bem feita, com muitos contrastes e ângulos fechados.
A direção de Jardim dá movimento ao filme. Ainda que seja uma trama densa e cheia de complicações, o filme é bem conduzido, sem ficar cansativo. Em resumo, é um filme muito bom. Mais um ponto para o cinema nacional que vem, cada vez mais, apresentando filmes maduros, bem feitos e bem desenvolvidos, sem precisar recorrer aos clichês favela, miséria e nordeste.
Me senti compelido a vir escrever aqui justamente pelo filme ser tão bom.
O cinema consegue criar mitos com muita facilidade. O perigo é que alguns desses mitos não são exatamente como mostrados na tela da sala de cinema. Neste caso, Getúlio Vargas aparece neste filme como um homem honrado e democrático, que se recusa a permitir um golpe autoritário por meio dos militares. Esta visão faz dele um verdadeiro mártir da política nacional, um homem que lutava pela liberdade do povo e pela honra do nome de sua família, chegando a se suicidar, dando sua vida ao invés da renúncia.
Só gostaria de lembrar aqui que este mesmo Getúlio Vargas nas décadas de trinta e quarenta instaurou uma ditadura violenta, fechando o congresso, censurando a imprensa e matando qualquer um que fosse contra seu governo. Vargas, nos anos quarenta, não só instaurou um regime fascista no Brasil, como flertava com o nazismo alemão e o fascismo italiano. Hitler recebeu mais de um telegrama de Getúlio e a polícia brasileira tinha conexões com a Gestapo, como ficou claro no caso de Olga Benario Prestes, que foi deportada para a Alemanha nazista mesmo sendo judia e estando grávida. A ditadura varguista que ficou conhecida como Estado Novo, foi a mais truculenta que o Brasil já viu, sendo mais severa e desumana do que a ditadura instaurada pelo golpe militar de 1964.
Em suas próprias palavras, Getúlio já havia rasgado duas vezes a constituição brasileira a seu favor antes de voltar ao governo nos anos cinquenta. Claro que Getúlio Vargas teve um lado muito bom para o Brasil, em especial ao regulamentar e dar direitos aos trabalhadores. Vargas foi o mais populista de todos os políticos que já passaram pelo governo brasileiro até hoje. Para o bem e para o mal. Portanto, acredito que este filme vem bem a calhar neste ano de eleições para nós brasileiros. Justamente para que possamos questionar quem são nossos candidatos e saber olhar para o passado destes. Indo além, olhando para o passado do Brasil, podemos ir às urnas tendo feito uma análise cuidadosa da nossa política e com a consciência tranquila.
Afinal, o passado a gente não muda. Mas o futuro…
VOCÊ ESTÁ RINDO DO QUÊ?

Texto publicado em julho de 2022 em minhas redes sociais.
Quando eu era criança, eu queria ser o Rambo, ou o Lion, dos Thundercats. Cresci um pouco, e na pré-adolescência, eu queria ser o Ferris Bueler. Já adolescente, um pouco mais velho, eu queria ser qualquer pessoa que não fosse eu mesmo. Acho que todo mundo passa por isso nessa idade… enfim. Um pouco mais velho, eu queria ser o Sal Paradise, ou o Jim Morrison, ou o Eddie Vedder… Aí entrei na faculdade, a vida adulta foi acontecendo, e essa coisa de querer ser alguém meio que muda de contexto, né… você vai misturando características. Quero escrever como Hunter Thompson, quero tocar (e quem sabe um dia quebrar) guitarra como Pete Townshend, quero ser descolado e boa gente como o Dave Grohl e por aí vai. Atualmente, com praticamente 40 anos de idade, não faz mais sentido esse negócio de querer ser outra pessoa que não eu mesmo. Estou conformado em ser quem eu sou e feliz, na medida do possível, com a vida que eu tenho. Mas calma, esse texto não é exatamente sobre mim. Mas sim sobre essas referências de vida que vamos cultivando ao longo do tempo. E vou deixar de fora as referências pessoais, tipo familiares, amigos… e focar em personalidades famosas.
O fato de hoje em dia eu não ter a menor pretensão de ser outra pessoa, além de mim mesmo, não impede que eu tenha algumas pessoas que me inspiram, com quem eu tenha uma identificação e tal. O que me chamou a atenção e me motivou a vir escrever sobre isso foi que percebi que até alguns anos atrás eu tinha essa relação com personagens de ficção, heróis, ou estrelas do rock e escritores doidões. Mas hoje em dia duas das pessoas mais influentes da minha vida são… comediantes! À medida que envelheço percebo cada vez mais imperfeições e defeitos nas pessoas, e penso sobre a vida delas e sobre a minha. Peguemos Hunter Thompson. Um gênio. Um dos meus escritores favoritos. Parece muito convidativo o estilo de vida que ele levou. Viver intensamente, drogas, loucura…e ainda assim conseguir escrever com brilhantismo. Não consigo me ver nessa posição. Ou eu fico louco, vivendo na farra, ou me concentro para conseguir escrever um texto bom. Veja que nem estou me comparando ao texto dele, simplesmente estou assumindo que escrevo razoavelmente bem. E que levando uma vida de farra e drogas (que é divertidíssima, ninguém duvida) eu jamais conseguiria escrever sequer um texto razoavelmente bom. Isso eu entendo hoje. Alguns anos atrás eu pensava diferente.
Tem muita gente que acha que devemos separar a obra e a pessoa. Eu também acho, mas até certo ponto. Normalmente esse argumento é usado para falar de posicionamento político. Quem nunca viu um velho conservador falando que o Chico Buarque é um ótimo compositor, mas uma pessoa desprezível por ser “comunista”? Neste aspecto, quem é de esquerda leva vantagem, claro. Afinal, fica difícil encontrar um artista realmente inventivo, inovador e talentoso que seja conservador e de direita. Antigamente até tinha gente como o Nelson Rodrigues e tal. Mas hoje em dia… Mas também não é sobre isso que eu quero falar. Calma que eu vou chegar lá. O fato é que eu gosto de ter o pacote completo. O fato de eu ser um voraz consumidor de biografias me ajuda muito nisso. E faz também com que meu senso crítico absorva o artista como pessoa física e sua obra, e tire minhas conclusões com base nesses dois pontos de vista juntos.
Chegamos onde eu queria. Na comédia. Como eu citei, hoje em dia duas pessoas que me inspiram, me influenciam e admiro são comediantes. Ambos são estadunidenses e estão mortos. Mas isso não vem ao caso. A comédia, de maneira geral, sempre me fascinou, e sempre foi um gênero que eu consumi avidamente. Tanto no cinema, como na TV, na literatura, nos quadrinhos e na comédia stand up. A comédia é uma expressão artística intrigante porque ao mesmo tempo que faz rir, que relaxa, que se faz valer do nonsense, da ingenuidade, da casualidade e, muitas vezes, da desgraça alheia, ela também consegue ser imensamente critica, perturbadora e política. Comecei a aprender isso com mais clareza quando assisti pela primeira vez, talvez há uns vinte anos, o filme O Mundo de Andy, lançado em 1999, dirigido pelo Milos Forman, estrelado pelo Jim Carrey e que retrata a vida e obra do Andy Kaufman.
Kaufman é um dos dois comediantes que hoje são uma referência e inspiração para mim. Não tanto pela sua obra, admito. Mas principalmente pelo seu modo de enxergar a arte, como interpretá-la, a importância de deixá-la livre para mostrar novos caminhos para o próprio artista e para os espectadores. E também, ser fiel a sua essência artística. Andy Kaufman criou tantas personas diferentes para si mesmo, que extrapolavam os palcos e sets de filmagem, que se criou toda uma mística em torno dele. Algo beirando o sobrenatural. Isso ficou evidente no documentário de 2017 Jim & Andy: The Great Beyond. Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton. Neste filme, Jim Carrey fala sobre como foi incorporar Andy Kaufman, enquanto várias cenas dos bastidores do filme O Mundo de Andy são mostradas. Para quem já viu o filme e conhece um pouco da história de Andy Kaufman, este doc é um prato cheio!
O outro comediante sobre o qual quero falar, eu tive um contato mais profundo muito recentemente, através também de um documentário. Eu já conhecia um pouco do trabalho dele através de vídeos no Youtube, com trechos de seus shows de stand up. Mas foi através do filme George Carlin’s American Dream, dirigido pelo Judd Apatow e lançao pela HBO Max coisa de um mês atrás. George Carlin me impactou muito. Sua vida e sua obra se confundem, gerando algo difícil de explicar. Um ser humano com uma vida tão errática e conturbada, que não só viu na comédia uma maneira de ganhar seu sustento, como se fez valer dela para se reinventar como pessoa e, de quebra, revolucionar a comédia, mais de uma vez ao longo de carreira. Mas o que mais me encantou na trajetória de George Carlin, foi justamente quando ele estava mais velho, se sentindo estagnado e se deu conta que a solução para ser diferente era ser ele mesmo e expor sem medo suas opiniões sobre problemas sérios e espinhosos para a sociedade em geral. Religião, política, aborto, meio ambiente, eram alguns de seus temas favoritos. E o impressionante é que esses textos de comédia stand up que ele escrevia para seus shows são magníficos! Não só pelo conteúdo, que é sim contestador, ácido, contundente e, claro, engraçado. São textos muito bem elaborados, com um ritmo envolvente, clareza nas ideias, frases bem construídas e uma fluidez invejável. Funcionavam super bem no palco, sendo interpretado por Carlin com sua voz rouca e expressões faciais engraçadas, mas funcionam também como texto a ser lido. George Carlin passou por muita coisa, de um pai abusivo que abandonou a família até o vício a cocaína, passando pela morte prematura de sua primeira esposa. Mas ele nunca deixou de escrever seu próprio material e nunca perdeu as oportunidades de se reinventar profissionalmente e se redescobrir como pessoa mais de uma vez. Realmente um gênio, de quem me tornei grande admirador.
Pra concluir, achei engraçado constatar que depois de passar por tantos heróis, estrelas do rock e escritores junkies, depois de velho e finalmente entendendo quem eu sou e o que eu quero fazer, eu encontre na comédia as referências, inspirações e motivação para seguir em frente. Depois de tanto tempo querendo ser tanta gente, percebo que estou ficando velho, e que não adiantaria nada ter sido outra pessoa no passado. No fim das contas, eu acabaria aqui nesta cadeira, digitando neste computador um texto qualquer. E provavelmente estaria rindo disso, como estou agora, ao me dar conta que a vida é mesmo uma baita piada de mau gosto, e só nos resta escolher se vamos rir dela ou não.
A VOZ DE OLIVETTO, DIRETO DE WASHINGTON.
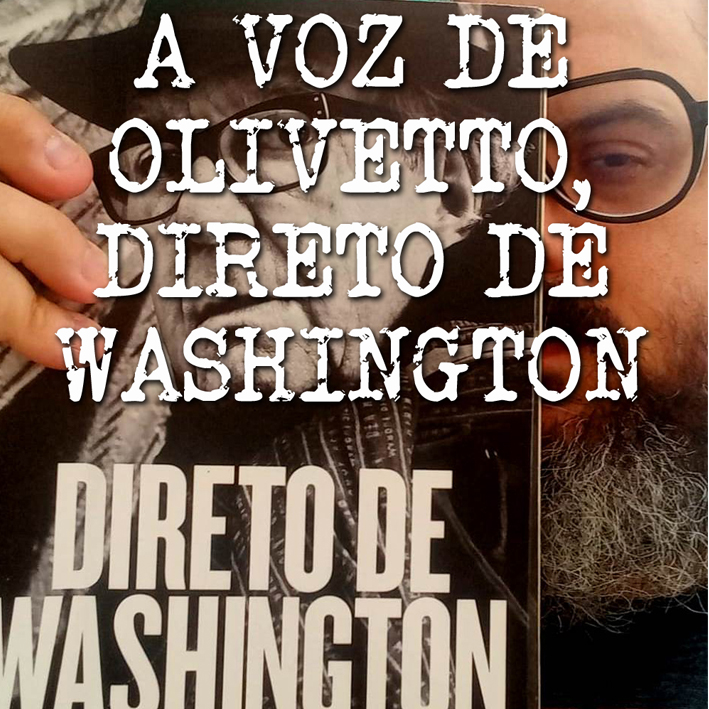
Texto publicado em abril de 2022 em minhas redes sociais.
Me marcou muito o discurso que Dave Grohl fez na abertura do festival South by Southwest em 2013, e que está disponível completinho e legendado no Youtube. Neste discurso, Grohl narra sua trajetória na música, contando suas experiências e demarcando algumas impressões que, na verdade, são conceitos que ele diz seguir em sua vida, e acaba recomendando a todos. Basicamente são dois os conceitos principais que ele explica no discurso: O primeiro é que todo mundo tem a sua própria e única voz, que é a maneira como você vai se comunicar da maneira mais eficiente e pura. Jimi Hendrix encontrou sua voz na guitarra, Van Gogh encontrou sua voz na pintura, enfim, você entendeu a ideia. O segundo conceito é mais voltado para o mundo da música, mas pode ser adaptado para tudo. Ele diz que quem toca, canta…enfim, se expressa através da música, deve sempre lembrar que o músico vem em primeiro lugar. Ou seja, sempre respeitar o seu ofício, a sua arte, a sua música antes de qualquer coisa. Antes de pensar na grana, antes de pensar na gravação do disco, antes de pensar no show… sempre ser fiel e verdadeiro à música, que é o que faz alguém ser realmente um músico. É um discurso incrível, que eu recomendo que todo mundo assista, é super leve e divertido, mas faz a gente pensar muito.
Mas eu não estou aqui para te falar sobre o Dave Grohl. Estou aqui para te falar sobre o livro que eu acabei de ler. E, ao longo deste texto, você vai entender porque eu comecei falando sobre esse discurso do Dave Grohl. O livro em questão é Direto de Washington, escrito pelo publicitário Washington Olivetto e lançado pela editora Sextante em 2018. É um livro que me arrebatou por vários motivos. O primeiro, e mais curioso, é que eu vinha de uma experiência muito ruim, que inclusive transformei em texto. No começo do ano comecei a ler um livro que não me agradou, mas eu fiquei um tempo insistindo, pois, sinceramente, nunca antes na minha vida eu tinha abandonado um livro no meio, sem acabar de ler. Mas como tem a primeira vez para tudo, essa foi a minha. Afinal, em coisa de um mês, eu tinha lido somente 90 páginas do tal livro. É muito pouco. Sinal que a leitura estava sofrida mesmo. Quando desisti e comecei a ler este Direto de Washington, foi uma loucura. A primeira página já me encantou e eu li o livro todo em praticamente duas semanas e meia.
Pra começar, vale dizer que não se trata de uma autobiografia. Se você tiver interesse em conhecer a história toda do Washington Olivetto, recomendo muito o ótimo livro Na Toca dos Leões, esta sim uma biografia do Olivetto, escrito pelo Fernando Morais. Já este Direto de Washington é um livro de memórias. Nele Olivetto relembra momentos marcantes de sua vida, muitos deles ligados às campanhas e anúncios publicitários brilhantes que ele criou. Inclusive os capítulos e memórias não seguem uma ordem cronológica, o que torna o livro ainda mais saboroso, porque parece que você está num bate papo e ele vai lembrando das histórias e contando. Então ele começa falando de um trabalho que fez na WMcCann Brasil em 2009 e emenda com uma outra história que aconteceu no fim dos anos 70, quando trabalhava na DPZ&T. Como brilhante redator que é, o texto do Olivetto tem uma fluidez e sabor impressionantes. É uma delícia de se ler. É claro que é um livro que vai encantar muito mais quem trabalha, se interessa e vive no meio da comunicação, em especial da publicidade. Mas a beleza deste livro é que ele vai agradar todo mundo!
Ok, todo mundo é exagero. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quem for brasileiro e tiver mais de 35 anos vai gostar do livro. Porque as histórias que vão sendo contadas estão relacionadas a campanhas e anúncios que extrapolaram o mundo da publicidade para se tornarem itens da cultura pop. O primeiro Sutiã, da Valisére, o Garoto Bom Bril, os gordinhos do DDD, o casal Unibanco… sem falar no comercial que praticamente rebatizou uma raça de cachorro, afinal até hoje ainda tem gente que chama os Dachshund de cachorrinhos Cofap. Essas e outras propagandas viraram assunto de mesa de bar quando foram lançadas, todo mundo tem uma lembrança legal relacionadas a alguma delas. E conhecer como foi a criação de tudo isso, entender esse mundo por trás das câmeras dos anúncios de TV é muito interessante. E o mais importante, é possível sentir a cada palavra lida uma enxurrada de sentimentos. Dá pra sacar que o Olivetto realmente ama, se orgulha e acredita imensamente em tudo que ele fez profissionalmente. E acho que foi nesse aspecto que o livro mais me impactou.
Eu nunca tive certeza de nada. Em especial na minha vida profissional. Eu nunca tive aquela certeza de saber o que eu ia ser quando crescesse. Eu sempre gostei de uma porção de coisas, mas nada que despertasse em mim esse sentimento que impulsiona a pessoa a seguir determinado caminho. Eu sempre amei tocar e fazer parte de uma banda, mas sinceramente nunca enxerguei a possibilidade de ser um músico profissional. Eu sempre gostei de escrever, de ler e sempre fui curioso. Mas o fator determinante para eu escolher cursar a faculdade de jornalismo foi que era o único curso de graduação que eu encontrei que não tinha nenhuma matéria relacionada a matemática. Depois cursei publicidade, cheguei a trabalhar como publicitário um tempo. Mas nunca tive o ímpeto de me especializar e talvez até mudar de cidade para conseguir um emprego melhor. Até pouco tempo atrás eu ainda não tinha essa certeza, essa paixão. Até que eu comecei a escrever com muita frequência e fui percebendo que eu realmente sou muito bom fazendo isso. Mais ainda, que eu me sinto muito bem, me divirto, me sinto livre escrevendo. E eu entendi que eu realmente amo escrever e quero viver para isso. E viver para isso inclui, obviamente, ter um retorno financeiro. Mas isso já é outro papo. Voltemos ao livro.
Em vários momentos do livro, Washington Olivetto reafirma o quanto é privilegiado por ter descoberto ainda muito jovem que sua verdadeira vocação era criar frases e conceitos para vender produtos e serviços, e o quanto isso sempre o fez tão realizado não só profissionalmente, mas também como pessoa. E não se trata aqui do discurso falso, injusto e mercantilista de que quem trabalha fazendo o que gosta nunca vai se cansar de trabalhar e tal, numa justificativa vazia para que as pessoas trabalhem além do necessário. Algo muito comum na publicidade, inclusive. Já vi muito publicitário dando palestra e falando com orgulho, em tom heroico, que a equipe ficou na agência até de madrugada, comendo pizza, pra entregar uma campanha. No livro, o próprio Olivetto diz que sempre insistiu para que todo mundo saísse da agência seis da tarde, afinal, o publicitário precisa ver filmes, conversar, ler, assistir televisão, ouvir música, enfim, viver, para ser criativo. Mas estamos desviando de novo do ponto. O que eu quero dizer é que o livro tem esse frescor de quem está se divertindo escrevendo, relembrando e contando aquelas histórias. E é isso que faz dele um livro tão bom, capaz de agradar qualquer pessoa, e não só quem se interessa ou trabalha com comunicação.
Eu já disse alguns parágrafos acima que a primeira página do livro me encantou. Isso porque Olivetto abre o livro dando uma definição tão simples e, ao mesmo tempo, tão certeira do que é a publicidade, que me abriu automaticamente um sorriso no rosto. E quando eu cheguei na última página do livro, o último parágrafo me atingiu em cheio mais uma vez. Porque diz exatamente o que eu sinto atualmente. Vou reproduzir aqui como o Washington Olivetto encerra este livro. Não se preocupe, que isso não atrapalha em nada quem quiser ler o livro todo. Neste momento, em que eu tenho certeza de que encontrei a minha voz através da escrita e tenho consciência que o escritor vem em primeiro lugar, pegando aqueles conceitinhos do Dave Grohl que citei no começo, faço minhas as palavras do Washington Olivetto ao encerrar o excelente livro Direto de Washington: “Neste texto contei e comentei a minha paixão pela leitura e pela escrita. Agora só falta dizer que desejo que você, que me leu até agora, viva mais 100 anos. E que a sua última leitura na vida seja algo que eu tenha acabado de escrever.”.
O QUE VOCÊ TEM NA CABEÇA?
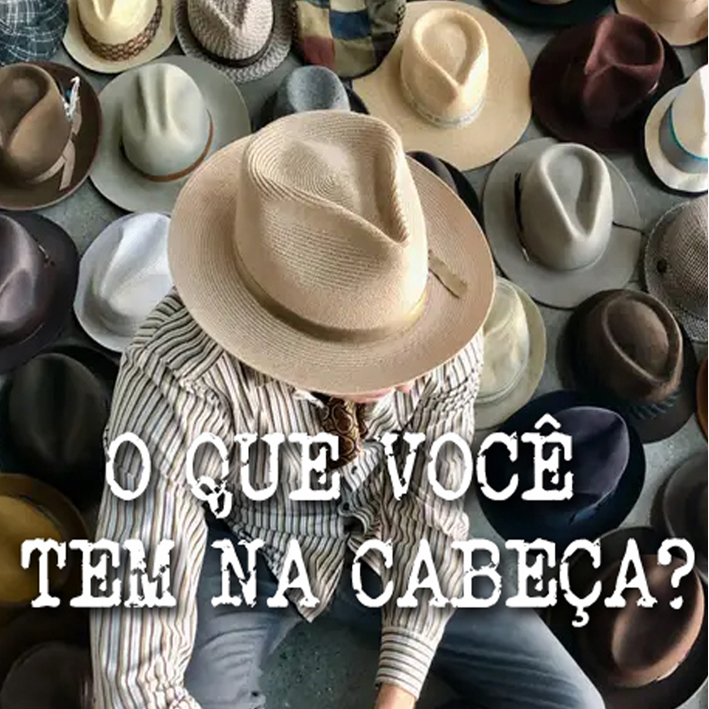
Texto publicado no Diário do Sudoeste em julho de 2019.
Até o final da década de 1950 o chapéu era acessório indispensável para a maioria dos homens. Apesar de os primeiros chapéus datarem de 2.000 a.C, foi no Renascimento (século XV) que os chapéus passaram a ser mais utilizados, em diferentes formatos e simbolizando diferentes status sociais. Após a revolução industrial e o capitalismo, veio o conceito de moda mais abrangente e eles deixaram de representar status social, mas continuaram na cabeça de todo mundo, para proteger do sol, do frio ou simplesmente por puro estilo.
Ainda que esteja voltando à moda o uso de alguns modelos de chapéu, o hábito de se usar chapéu diariamente é cada vez mais raro, principalmente entre os jovens. Hoje em dia estão na moda os chapéus do tipo Trilby e Porky Pie, que tem aba curta e coroa mais baixa, podem ser encontrados em diversas cores e materiais. Também usa-se muito o estilo cowboy, de abas largas e coroa alta, adotado pelos que fazem o estilo country. Um dos mais populares antigamente e mais tradicionais até hoje, é o estilo Fedora, imortalizado pelo personagem Indiana Jones.
Fedora é o estilo de chapéu que eu adotei há alguns anos. Eu nunca fui de usar bonés ou boinas, muito menos chapéus. Mas, de uns tempos pra cá, meus cabelos vem caindo vertiginosamente. Com a proeminente calvície, durante um inverno mais rigoroso, resolvi comprar algo para proteger minha cabeça do frio. Eu pensava num gorro ou algo assim. Mas quando cheguei na chapelaria, vi um chapéu muito parecido com o que meu avô usava. A semelhança e a lembrança de um dos caras mais importantes na minha vida foram suficiente para que eu o comprasse.
Hoje, tal qual meu avô enquanto vivo, adquiri o hábito de usar meu chapéu diariamente. Não coloco o pé pra fora de casa sem ele. Aquele primeiro chapéu que comprei era de qualidade duvidosa. Se desfez rapidamente. Desde então, me tornei um entusiasta dos chapéus. O que uso atualmente é um modelo Fedora marrom escuro número 56, este sim idêntico ao que meu avô usava. O comprei na chapelaria mais tradicional de São Paulo, na Rua do Seminário. Custou caro, mas é de uma marca ótima, super confortável e bem acabado.
Uns dias atrás, um senhor, já com seus setenta anos, me parou na rua para elogiar o meu chapéu. Ele usava um do mesmo modelo, mas de cor cinza claro, muito bonito também. Agradeci o elogio e comentei que é uma pena que o hábito de se usar chapéu esteja sumindo. E ele rebateu: “Hoje em dia parece que as pessoas não tem nada na cabeça, aí não faz sentido mesmo usar chapéu.”. Não é que eu concorde 100% com ele.
Mas é de se pensar.
